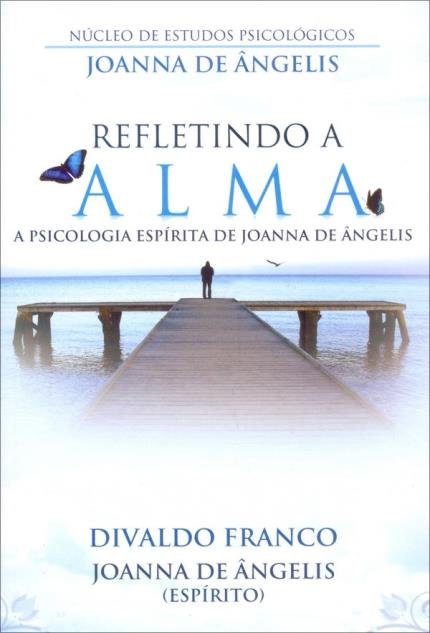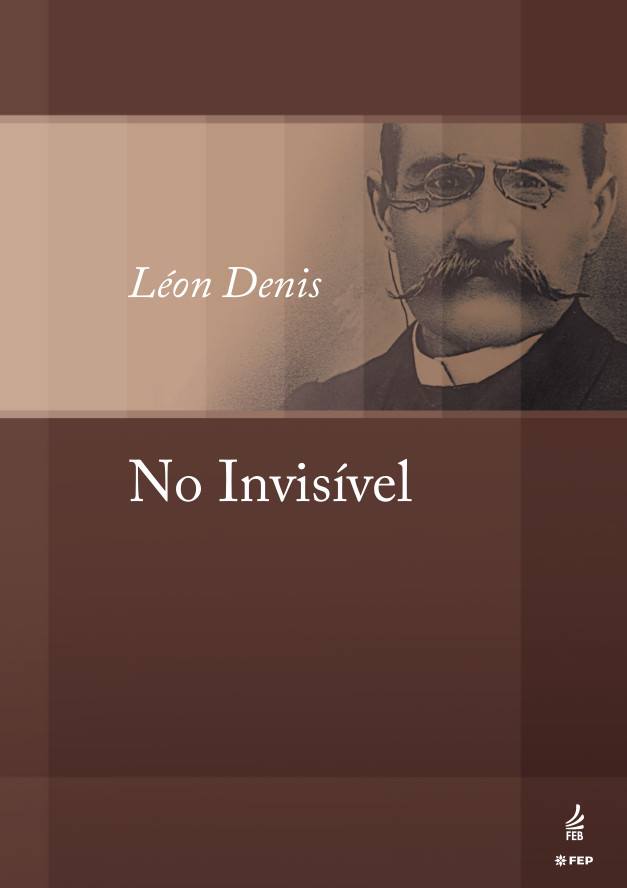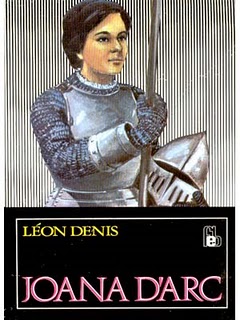“A morte é a vida. Não faço mais que repetir o que já disseram, mas para vós não há outra expressão senão esta, a despeito do que afirmam os materialistas, os que preferem ficar cegos. Oh! meus amigos, que belo espetáculo sobre a Terra o de ver tremular os estandartes do Espiritismo!”
(“O Céu e o Inferno”, Allan Kardec, cap. II, segunda parte, palavras do espírito Costeau)
A vida convoca-nos para a celebração. Por ela compramos flores. Flores para uma festa de celebração da vida. Porém, serão elas, também, um ritual de preparação para a morte? Esta é uma das questões colocadas por Virginia Woolf no seu livro “Mrs. Dalloway” (1925), que viria a ser adaptado ao cinema com o título “As horas”, por Stephen Daldry (a partir do romance de Michael Cunningham).
Virginia Woolf foi um dos principais expoentes do chamado modernismo literário inglês. Em “Mrs. Dalloway”, o quarto romance da escritora, a vida é retratada tal como Woolf via a vida a partir de si mesma. Woolf que terá experienciado grande dor interior e dificuldade em compreender o sentido da vida, pois, a escritora acabaria por se suicidar.
Pela sua escrita, o leitor é convidado a ser investigador da condição humana. O enredo em “Mrs. Dalloway” conduz-nos pelas reflexões da personagem de Clarissa Dalloway. Dalloway depara-se alternadamente com eventos e pessoas que a levam à reflexão sobre o seu papel no seu próprio presente, bem como sobre qual seria esse papel se ela tivesse optado de forma diferente em alguns eventos do seu passado. Escolhas que alterariam a chegada à fronteira em que agora se encontrava. A pergunta que se coloca, é: o que via ela nessa fronteira? A dúvida sobre si mesmo, sobre quem era Clarissa.
Clarissa perguntava-se sobre como seria se tivesse sabido renegar às convenções sociais a que se via presa. Perguntava-se quão mais feliz seria se se tivesse libertado desses “adornos” do estatuto social.
“Não desejava morrer. A vida era boa. O sol aquecia. Se não fossem os humanos…”, dizia a autora em “Mrs. Dalloway”. Era o ser humano e suas falências morais que fazia Dalloway refletir sobre as mulheres e as suas obrigações sociais, estas como prisões do nada, dizendo:“Era um vazio perto do centro da vida; um sótão. As mulheres devem deixar seus adornos. Ao meio-dia devem despir-se”.
As questões de Mrs. Dalloway são as de muitos de nós. São questões que nos deveriam inquietar e fazer procurar a nossa sombra, ou seja, as nossas debilidades, os chamados defeitos, para os aceitar. E ao identificá-los, ou reconhecê-los, ir gradualmente derrubando os nossos adornos.
Como surge a sombra em cada um de nós?
Surge a partir do acumular de vários equívocos morais em vivências pretéritas. Neste sentido, só o esforço continuado nos libertará dela começando por assumi-la no nosso íntimo de forma consciente. Por exemplo, a catarse é um dos processos de cura, sendo a resiliência uma das ferramentas para evitar que a sombra nos domine [1, p. 300].
As exigências rígidas de conduta, os dogmas e os preconceitos são vestimentas que usamos para nos escondermos. São faces da sombra. Essas faces, ou máscaras tentam ocultar a nossa debilidade, e, assim, obliterar a nossa cumplicidade para com a decadência social, que por vezes reina bem perto de nós.
Somos cúmplices porque tememos confrontar-nos intimamente. O resultado é sempre o mesmo: fragilidade emocional pelo conflito moral que se instala em nós. A solução passa por aprendermos a lidar com esse conflito. Admiti-lo inicia o princípio de cura, pois o mal que se denuncia destapa as debilidades que a sombra queria continuar a esconder. Porém, a fuga do conflito pode reduzir o propósito dos nossos dias às fragilidades impostas pelas vestes dos nossos adornos. E, depois, pode suceder que venha o neuroticismo, a rigidez de orgulho, o crescendo do egoísmo, a desarmonia interior. Sujeitamo-nos a ser pasto rico para um ego doente.
A libertação da consciência é a libertação da sombra, todavia, isso não significa o seu desaparecimento, como que por magia, significa apenas o ganho de capacidade para aprender novas formas de lidar com as nossas fragilidades.
Afinal, a forma como vivemos determina o futuro, pelo que o futuro está no passado – na forma como erguemos e lidámos com a sombra e com os nossos adornos para a esconder. O nosso presente está a fazer esse trabalho para o futuro, pois a vida continua.
Depois da morte do corpo não há como usar os adornos (terrenos) para suportar o meio onde nos vamos encontrar, e, ali, a sombra é à dimensão das falhas morais mantidas, criadas e não resolvidas. É a nossa dimensão moral que vai determinar a forma, mais ou menos feliz, com que se vai estar do outro lado da vida, mas também a forma como vamos voltar a este lado, no corpo físico – nessa continuação da vida do espírito, de quem somos, enquanto seres espirituais que vive diversas experiências físicas visando a sua evolução.
É o espírito e não o corpo a representação do “eu”, da individualidade, pois é nele que se expressa a evolução intelectual, moral e emocional de cada um de nós. Também é pelo espírito que se regista toda a informação sobre as obras (erros e benefícios) realizadas.
E será que temos uma consciência educada e cientificada de que é assim que se passa, para que melhor possamos agir em nosso favor e dos outros? Infelizmente ainda não.
A sociedade vive em ritmo acelerado, desligada de Deus, e sem buscar um propósito para os seus dias. A maioria das pessoas encontra-se inconsciente, não sabe por que faz o que faz [2]. E ao olharmos “a parte”, a vida no corpo, é natural que julguemos estar a ver “o todo”, ou o que ele pode incluir.
E é por tudo isto que nos é difícil não ver a morte do corpo como o fim, pois quando se fala de vida pensa-se no corpo, nas coisas que vamos abandonar, e nunca no advir, no que de eterno em nós erguemos, i.e., valor moral, sabedoria, memórias emocionais e vivenciais, laços (de preferência bem cultivados).
O colapso físico é o fim, mas apenas do corpo. Nós não somos o corpo, somos o espírito que habita um corpo, cuja morte convida o espírito ao retorno, à casa de partida, ou seja, ao plano espiritual, pelo que a morte não deve ser entendida como uma rutura definitiva que lança no vazio todos os processos de vida realizados e que se associam à evolução do espírito e às oportunidades de reconciliação. A vida ao dar oportunidade de construção de laços de amizade, de fraternidade, de amor, também deixa ao nosso livre-arbítrio evitar ou terminar os laços de desamor – que, ao existirem, devem ser desfeitos com urgência, tal como sugeria Jesus dizendo “Concerta-te sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele” (Mateus, V: 25e 26).
A vida deve ser compreendida a partir do espírito (indivisível), que reencarna. O corpo é o veículo pelo qual o espírito exercita a sua evolução, por etapas. O tempo para o espírito é infinito. O tempo para o corpo é finito. Este tempo obedece à vontade de Deus, às leis morais que impendem sob a vida do espírito, tal como sucede com a lei de causa e efeito e a lei da reencarnação.
A morte não é o fim, mas sim o final de uma etapa. A morte do corpo corresponde à separação temporária dos entes queridos, dos amigos. Eles, que nos deram o palco para laborarmos na resolução de conflitos de vidas pretéritas – ainda que disso não tenhamos consciência -, de crescimento íntimo e de criação de novos laços.
Por tudo isto, a morte não deve ser entendida como uma rutura definitiva que lança no vazio todos os processos de vida, tais como a aprendizagem, a construção de laços de amizade, de fraternidade, de amor, mas também de desamor – que deverão ser desfeitos com urgência, tal como sugeria Jesus dizendo “Concerta-te sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele” (Mateus, V: 25e 26).
A morte separa-nos, mas apenas temporariamente, tal como o faz quando nascemos relativamente aos que se mantêm no plano espiritual. É com o renascer que podemos viver a interação de cura e evolução pelas provas e expiações a que se está sujeito. O nascer de novo é uma das principais premissas de esperança da mensagem de Jesus, ainda que muitos de nós a tenhamos esquecido, outros destorceram-na, mas todos a podemos compreender e desde o trabalho de Allan Kardec comprová-la pelo espiritismo, que a demostra.
Mas, para muitos a morte é mesmo o fim, pelo que o sentido da vida poderia ser resumido a dois cenários. No primeiro, o indivíduo procura materializar a sua memória por obras, por heranças, por aquilo que afinal representa o seu passado, pois não compreende o seu próprio futuro, mesmo que o deseje, ou nele acredite a partir das promessas das religiões.
No segundo, enquadram-se aqueles que pouco querem fazer, seja por si ou pelos outros, pois acham que não vale a pena o esforço. Pensam que depois da vida presente nada mais há. O sentido da vida está no gozo terreno, pelo que muitos desistem da vida quando as coisas não correm de feição, nomeadamente quando as aflições são crescentes. A falta de fé e de entendimento sobre a realidade espiritual associada ao facto de não verem qualquer proveito na dor (pois, assumem-na como desperdício ou castigo), fá-los crer que a morte é um alívio face às contrariedades.
Em ambos os cenários as pessoas encaram a morte como um marco que não só põe termo à vida, como também às responsabilidades a assumir pela forma como se quis viver. Entre estes contam-se ateus, religiosos e agnósticos. Significa, pois, que não basta a crença em Deus, ou a sua ausência para que haja compreensão sobre qual o sentido da vida. A crença não conduz a um melhor esclarecimento sobre o que é, ou não é a morte. Afinal não basta crer, tem de se compreender, pelo que é importante ganhar conhecimento sobre as explicações, os factos e as provas relativas à infinidade da nossa existência.
Apesar da informação e das provas sobre a realidade descrita, continuamos a ser educados para não ver. No entanto, e para surpresa de muitos, já desde os finais do séc. XIX que muitos e ilustres membros da comunidade científica estudam afincadamente estes fenómenos (ver livro “No Invisível”, de Léon Denis [3]). Por exemplo, de referir o caso de Carl Gustav Jung (1875-1961), psiquiatra e psicoterapeuta suíço, fundador da psicologia analítica, que depois de ler inúmeras obras Espíritas, se impressionou fortemente com os trabalhos de William Crookes e Zoellner.
Gustav Jung estudou e sistematizou conhecimento sobre a relação entre consciente e inconsciente a partir do que terá deduzido ser a informação herdada de vidas anteriores e a indivisibilidade do Espírito. Em outubro de 1913, com 40 anos, e após constatar que tinha alcançado toda a realização profissional, pessoal e material desejada, Jung depara-se com uma visão pela qual estabelece o seguinte diálogo:
“Minha alma, onde estás? Tu me escutas? Eu falo e clamo a ti – eu sacudi de meus pés o pó de todos os países e vim a ti, estou contigo; após muitos anos de longa peregrinação voltei novamente a ti. Devo contar-te tudo o que vi, vivenciei, absorvi em mim? Ou não queres ouvir nada de todo aquele turbilhão da vida e do mundo? Mas uma coisa precisas saber: uma coisa eu aprendi: que a gente deve viver esta vida. Esta vida é o caminho, o caminho de há muito procurado para o inconcebível, que nós chamamos divino. Não existe outro caminho. Todos os outros caminhos são trilhas enganosas. Eu encontrei o caminho certo, ele me conduziu a ti, à minha alma. Eu volto retemperado e purificado. Tu ainda me conheces? Quanto tempo durou a separação!
Tudo ficou tão diferente! E como te encontrei? Maravilhosa foi a minha viagem. Com que palavras devo descrever-te? Por que trilhas emaranhadas uma boa estrela me conduziu a ti? Dá-me a tua mão, minha alma muito tempo renegada! A vida reconduziu-me a ti. Vamos agradecer à vida o facto de eu ter vivido, todas as horas felizes e tristes, toda a alegria e todo sofrimento. Minha alma, contigo, deve continuar minha viagem. Contigo quero caminhar e subir para minha solidão.” [1]
Ao testemunho do que terá sido a aprendizagem consciente de Jung acrescentemos que não podemos esperar pela morte para que ganhemos o cabedal moral que nos faz falta na vida no corpo. É na Terra, a cada reencarnação, que devemos fazer esse trabalho, tal como refere Denis:
“a morte não nos transforma, sob o ponto de vista moral. No espaço achar-nos-emos de novo com todas as qualidades que houvermos adquirido, mas também com todos os nossos erros e defeitos. Daí que na atmosfera celeste formigam almas inferiores, sôfregas por se manifestarem aos humanos (…)”. (p. 64) [4].
Virginia Woolf questionava-se sobre a vida e a morte pela personagem de Clarisse Dalloway. Também nós ao desconhecermos a realidade espiritual sentimos o medo do desencarne, a angústia da morte. E era exatamente isto que sucedia com o escritor português Virgílio Ferreira, que perante tais questões e dúvidas sobre a existência de Deus propunha a arte como perspetiva esperançosa e de exaltação da condição humana. Dizia que por ela podíamos afastar o “absurdo” da morte (no seu sentido angustioso e de vazio inexplicável).
Um dos propósitos do trabalho dos escritores talvez seja o de confrontar o leitor consigo mesmo e com os universos propostos pela obra escrita. Por ele pode surgir o confronto entre o Eu (de cada um) e o Destino (se houvesse…). Nesse confronto o escritor revela, também, o seu Eu, e, nele, Vergílio Ferreira, exibe a sua dor face à morte, tal como se deduz das suas palavras:
«Não, a morte não é um “acidente de percurso”. Percurso para onde? Não há mais percurso nenhum. Ela é apenas, com o nascer, o enquadramento de uma vida, que é o intervalo solar de duas noites que a limitam. Mas só se houvesse luz, a luz não existia. Pensa a noite para conheceres a exaltação do dia. Que há de mais importante para a vida do que saber que há a morte? Filosofar é prepararmo-nos para ela. Disse-o Sócrates. Disse-o Cícero. Disse-o Montaigne. Di-lo tu também, que também és gente.» (in Pensar)
As escolhas de hoje criam a verdade de amanhã. Por sermos educados a não ver, as ilusões pelos adornos de hoje poderão vir a ser as angústias, os desamores, os ódios, ou a solidão no amanhã. São estas “as noites” referidas por Vergílio Ferreira no antes e depois da vida. Todavia, a vida preexiste e continua a existir, pois ela está no Espírito – na alma encontrada por Jung, sobre a qual tudo se reflete a partir da lei de causa e efeito e da reencarnação.
A morte é isso, a janela a partir da qual podemos observar o provir que semeámos. O futuro está, afinal, na memória, pelo que deveremos questionar-nos como fazia Clarisse Dalloway. Temos de aprender a estar atentos ao presente que construímos para idealizarmos o futuro, e, com isto, verter novo entendimento sobre o que são as graças que recebemos e as dores que sofremos. Sobre o porquê e o seu objetivo para o provir. Sendo perene (eterna) a vida do espírito, o imediatismo é um equívoco.
E se sofremos é porque fizemos ou fazemos sofrer. Sofremos porque não entendemos que a vida, ao se basear na lei de causa e efeito, não nos exime de responsabilidades, pois estas não se esgotam com a morte do corpo. E se tememos a morte é porque não vivemos dinâmicas de reciprocidade baseadas no amor, enquanto estamos a caminho com os outros. A morte não é o fim, mas tem de ser preparada com vista ao provir. A morte é o meio de voltar à outra vida, espiritual, de onde viemos e, desta, à vida seguinte, na Terra.
Se não desperdiçarmos a oportunidade da reencarnação presente voltamos à pátria espiritual mais fortalecidos e levando mais do que aquilo que trouxemos – é este o objetivo da vida – viver com propósito. E qual é o propósito? O que é perene e para lá da materialidade, i.e., a partilha de bons sentimentos, amor, conhecimento, vivência cultural, todo o bem praticado e o mal que pudemos impedir.
Em síntese, o despertar no lado de lá depende do quanto soubemos amar no lado de cá, pelo que a morte é a chancela da passagem entre os dois estados de vida pelo espírito, o espírito que somos.
Referências
[1] FRANCO, Divaldo, pelo Espírito Joanna de Ângelis, Refletindo a Alma: A Psicologia Espírita de Joanna de Ângelis, LEAL, 4ª edição, 2016.
[2] FRANCO, Divaldo, pelo Espírito Joana de Ângelis, comentado por Cláudio Sinoti e Iris Sinoti, Em Busca da Iluminação Interior, LEAL, Salvador, 2017.
[3] DENIS, L. (2011), No Invisível, 2ª Ed, FEB, do original de 1911.
[4] DENIS, Léon, Joana D’Arc, Médium, 19ª edição, FEB, 1999.